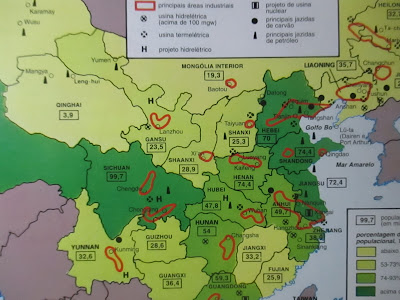A independência, com o fim do domínio britânico, ocorreu em agosto de 1947 na Índia e Paquistão, em janeiro de 1948 na Birmânia e em fevereiro de 1948 no Ceilão. O processo de independência foi especialmente difícil na Índia e Paquistão. A Conferência Nacional Indiana havia apoiado a ideia de um governo central forte para promover o desenvolvimento econômico e a integração nacional, mas a Liga Muçulmana, liderada por Mohammed Ali Junnah, não concordou. O preço da independência, para o partido do Congresso dominado por hindus, foi a criação de um Estado muçulmano separado, o Paquistão, e a divisão das províncias do Punjab, no oeste, e de Bengala, no leste . Distúrbios entre hindus e muçulmanos e o desejo dos britânicos de deixar a Índia após a Segunda Guerra forçaram o vice-rei, Lord Mountbatten, a acelerar os planos para independência. Em 15 de agosto de 1947 nasceram os Estados da Índia e do Paquistão.
A delimitação das novas fronteiras levou a conflitos, particularmente no Punjab e Bengala. No Punjab, a fronteira passava por ricas terras cultivadas por sikhs, muçulmanos e hindus. Alastraram-se os distúrbios, seguidos de um êxodo em que muçulmanos foram para o Paquistão, no oeste, e sikhis e hindus, para a Índia, no leste. Essa divisão afetou especialmente as regiões do Punjab e Bengala. O resultado foi um grande êxodo. Cerca de 6 milhões de muçulmanos migraram do Punjab para o novo Paquistão e cerca de 4,5 milhões de sikhs e hindus migraram para as áreas entre Amritsar e Deli. Em Bengala, mais de 2 milhões de hindus deixaram o setor leste (hoje Bangladesh); milhares de muçulmanos de Bihar, Calcutá e outros locais procuraram abrigo em Bengala Oriental. A divisão de Bengala teve resultados similares, mas, ao contrário do Paquistão Ocidental, o leste reteve considerável minoria hindu. Cerca de 500 mil pessoas morreram na divisão e 14 milhões cruzaram as novas fronteiras.
A necessidade de realojar refugiados representou grande ônus para os novos Estados. Conflitos entre imigrantes e residentes continuaram e o destino de 600 principados do subcontinente após a independência ficou indefinido: seus governantes podiam unir-se à Índia, ao Paquistão ou optar pela independência. A maioria dos Estados optou por um dos dois países. Outros, como Hyderabad, resistiram e foram absorvidos à força pela Índia. O governante hindu de Caxemira hesitou, mas a invasão de uma tribo fronteiriça, com apoio do Paquistão, persuadiu-o a unir seu Estado de maioria muçulmana à Índia, mas com promessa de um plebiscito. Uma linha de cessar fogo da ONU foi aceita em 1949, mas a Caxemira continuou disputada por Índia e Paquistão.
Todos os Estados do sul da Ásia enfrentaram exigências de minorias religiosas, étnicas e linguísticas. A tentativa do governo de promover o "hindi" como língua nacional foi combatida no sul dravídico, especialmente na Província de Tâmil Nadu. Em 1956, o governo Jawaharlal Nehru concordou em reorganizar os Estados com base na divisão linguística, mas continuaram os conflitos sobre fronteiras locais. No nordeste, grupos tribais liderados pelos Nagas e Mizos buscavam a independência. O conflito foi exacerbado por migrações através das fronteiras linguísticas (tâmeis que foram para Bombaim) e internacionais (bengaleses do Paquistão Oriental que foram, para Assam e Tripura). A divisão não resolveu o conflito entre hindus e muçulmanos, deixando a Índia com expressiva minoria muçulmana. As tensões comunitárias cresceram particularmente em centros religiosos, como a mesquita Babri, em Ayodhya.
No Paquistão, irromperam conflitos étnicos e religiosos, particularmente em Sind, onde a população local enfrentou refugiados muhajir da Índia. Em 1971, essas diferenças desintegraram o país. O Paquistão Oriental, situado a 1,6 mil quilômetros do Ocidental, ressentiu-se de sua subordinação econômica e política. O líder militar do Paquistão, Yahya Khan, tentou reprimir as exigências de autonomia no leste, mas o governo da Índia interveio em favor da guerrilha local. O exército paquistanês foi derrotado e no lugar do Paquistão Oriental surgiu um novo país: Bangladesh.
No Ceilão, uma tranquila transferência de poder em 1948 assegurou estabilidade por 30 anos. Nesse período, a maioria budista cingalesa tentou consolidar seu domínio político. Cerca de 800 mil tâmeis que trabalhavam no cultivo do chá e descendiam de trabalhadores trazidos pelos britânicos perderam seus direitos civis após a independência. Muitos foram repatriados para a Índia; apenas cerca de 100 mil obtiveram a cidadania em 1986. A busca de uma política pró-budista e exclusivamente cingalesa para o Ceilão, rebatizado de Sri Lanka em 1972, aumentou o medo de exclusão dos empregos e da participação política entre a minoria tâmil hindu. Os tâmeis iniciaram uma campanha por um Estado autônomo ou, em último caso, por um país independente (Elam); em 1986, os rebeldes quase expulsaram as forças governamentais da península de Jaffina. Conflitos contínuos levaram a Índia a manter uma força de pacificação na área entre 1987/90.
Conflitos internos no sul da Ásia tiveram consequências regionais e domésticas que, aliadas a legados coloniais e busca de segurança, provocaram confrontos internos. Embora os franceses tivessem saído pacificamente de seus entraves costeiros em 1956, os portugueses só deixaram Goa à força em 1961. Uma disputa sobre a fronteira indiana no Himalaia provocou guerra entre a Índia e a China em 1962. Apesar da decisão chinesa de se retirar de grande parte do território ocupado, a guerra deixou a Índia insegura e levou à presença militar maciça na fronteira em litígio, à incorporação de Sikkim pela Índia em 1975 e a tentativas de estabelecimento de hegemonia indiana na região. Em 1965, o Paquistão tentou resolver pelas armas a disputa sobre Caxemira. Nessa luta, a Índia conquistou novos territórios, mas acordo posterior restabeleceu a antiga fronteira.
Os principais países do sul da Ásia tentaram estabelecer regimes parlamentaristas, embora Nepal e Butão tenham mantido suas monarquias. A democracia teve pouco sucesso devido a golpes militares e assassinatos políticos. Após um período de instabilidade parlamentarista, o Paquistão enfrentou pela primeira vez o "estado de sítio"em 1958, com o general Ayub Khan. Ele e seu sucessor, Yahya Kan, mantiveram o controle militar sobre o Paquistão até 1971. Após seis anos de governo civil, em 1977 os militares voltaram com Zia ul-Haq. Após sua morte, em 1988, o governo civil foi precariamente restaurado. Em Bangladesh, a rápida experiência democrática terminou com o assassinato de Majibur Rahman, em 1975, e uma série de golpes militares.
A Índia manteve os militares nos quartéis, mas entre 1975/77 a primeira-ministra Indira Gandhi decretou estado de emergência e convocou eleições, nas quais foi derrotada. Reeleita em 1980, ela enfrentou instabilidade no Punjab, onde extremistas sikkis exigiam a criação de um Estado independente. Em 1985, Indira foi assassinada por um guarda-costa sikh. Seu filho Rajiv tornou-se primeiro-ministro. Apesar da popularidade inicial, Rajiv enfrentou dificuldades ligadas ao Punjab, Sri Lanka e outras questões regionais. Após ser destituído do poder, também foi assassinado em 1991, confirmando a trilha sangrenta de assassinatos e disputas políticas no sul da Ásia desde a divisão.
No Ceilão, os tâmeis hindus resistiram às pressões da maioria cingalesa budista, que se institucionalizou com a nova Constituição do Sri Lanka, em 1972. Líderes tâmeis exigiram um Estado separado numa federação flexível e, após 1983, a atividade guerrilheira dos Tigres Tâmeis e de outros militares acelerou o conflito com o exército do Sri Lanka, com massacres de civis dos dois lados. As tensões entre cingaleses e tâmeis aumentaram após 1985, e o exército indiano interveio em 1987 para restabelecer a ordem.
Nicéas Romeo Zanchett
.
PARA LER DESDE O IN´CIO
clique no link abaixo